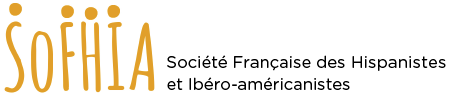Alberdi Urquizu, Carmen & Marian Panchón Hidalgo. 2025. “¿Traductor o traductoide? Reflexiones en torno al uso de la inteligencia artificial en traducción literaria.”
Alberdi Urquizu, Carmen & Marian Panchón Hidalgo. 2025. ¿Traductor o traductoide? Reflexiones en torno al uso de la inteligencia artificial en traducción literaria. Monográficos Vertere de Traducción e Interpretación. Ediciones Universidad de Valladolid. Sinopsis: El vertiginoso desarrollo de la
Marie-Soledad Rodriguez (éd.), Les productions culturelles en Espagne et la crise de 2008, Orbis Tertius, 2025.
La crise économique de 2008 a eu de graves conséquences sociales pour une partie des Espagnols (chômage, augmentation de la précarité, expulsions, émigration forcée des jeunes) et a également généré une profonde défiance envers les partis et le système politique
Elecciones y República en Ecuador, siglo XIX
Estamos felices de presentarles nuestra última novedad editorial 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫, 𝐬𝐢𝐠𝐥𝐨 𝐗𝐈𝐗, G. Borja González, J. Maiguashca, L. E. Vizuete Marcillo (eds.) Este libro abre un nuevo espacio de reflexión sobre las elecciones en Ecuador desde finales del siglo XVIII hasta inicios
Esi y Melanio, y otras obras en prosa
Fernando Villalón, Esi y Melanio, y otras obras en prosa, edición, introducción y notas de Jacques Issorel, Sevilla, Renacimiento, 2025, 124 p. (Los Cuatro Vientos, 262), 16 €. La personalidad literaria de Fernando Villalón (Sevilla-1881 – Madrid, 1930) se va
Maria do Rosário FERREIRA, Ángela MUÑOZ FERNANDEZ e Hélène THIEULIN-PARDO (dirs.), Escrever ao mosteiro, escrever do mosteiro: cartas de mulheres na Europa medieval (Espanha, França, Itália, Portugal, séculos XII-XV)
Maria do Rosário FERREIRA, Ángela MUÑOZ FERNANDEZ e Hélène THIEULIN-PARDO (dirs.), Escrever ao mosteiro, escrever do mosteiro: cartas de mulheres na Europa medieval (Espanha, França, Itália, Portugal, séculos XII-XV) Paris : e-Spania Books (Studies, 14), ISBN : 978-2-919448-54-8 Este volume reúne